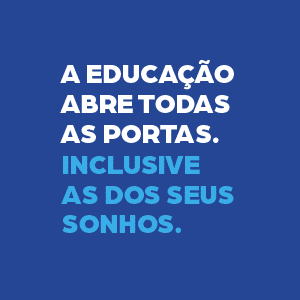Via Agência Pública, por Vasconcelo Quadros.
Autor do livro recém-lançado República de segurança nacional – Militares e política no Brasil (editora Expressão Popular), uma alentada pesquisa sobre a trajetória das Forças Armadas, o cientista político Rodrigo Lentz, doutor pela Universidade de Brasília (UnB), mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e advogado, sustenta que é ingenuidade considerar que a presença dominante dos militares no governo Jair Bolsonaro marcou o retorno deles à política depois da ditadura. “É a volta dos que nunca foram”, disse ele em entrevista à Agência Pública. Segundo o professor, ao longo dos últimos 37 anos os militares exerceram tutela permanente sobre a política, até alcançarem o topo do poder a partir de 2018, com a ocupação de cargos que pertenciam aos civis, numa manobra que sustenta e define os rumos do atual governo.
“Os militares conquistaram um nível de autonomia em relação ao poder civil inédito na República. Os civis aceitam essa reserva de domínio militar e a supervisão de tutela”, afirmou Lentz.
O pesquisador também critica o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por ter convidado as Forças Armadas a integrar a Comissão Externa de Transparência, destinada a discutir segurança nas eleições, iniciativa que facilitou os ataques infundados de Bolsonaro e da cúpula militar à urna eletrônica. “Chamar as Forças Armadas para a comissão foi um desastre. Os militares sabem muito bem que os políticos acham que vão cooptá-los e eles aceitam essa aparência, mas seguem o próprio programa e sua própria agenda, enganando os políticos. Historicamente isso sempre aconteceu”, disse.
O cientista político sustenta que o bolsonarismo é um derivado do militarismo, cuja presença na cena política nacional se tornou tão forte que teria resultado num tácito pacto contra o impeachment do atual presidente em troca da volta do Centrão ao poder.
“O Centrão é obra dos generais que se engajaram no projeto de governo do Bolsonaro”, afirma. O grupo militar encastelado no Planalto, diz, tem o mesmo perfil ideológico conservador e fisiológico do estilo toma-lá-dá-cá que forma a base do presidente no Congresso. “O Centrão civil é produto do Centrão militar”, garantiu.
A proliferação de caçadores, atiradores e colecionadores (CACs) ligados a Bolsonaro representa, para Lentz, a ameaça mais consistente de uma provável onda de violência nas eleições deste ano caso o atual presidente, numa eventual derrota, não aceite o resultado das urnas. “Num dos cenários prováveis, os CACs podem desestabilizar o sistema político”, alerta.
Veja a entrevista:

No seu livro, você afirma que, ao contrário da ideia que se tinha a partir do fim da ditadura, os militares nunca deixaram a política. Como eles operam?
A ilusão democrática da Constituição de 1988 foi imaginar que não enfrentando um passado autoritário, as estruturas autoritárias, e sobretudo essa incompatível autonomia da organização militar com o regime democrático, a gente conseguiria a estabilidade da democracia. E essa ignorância, esse desconhecimento da academia, da imprensa e dos próprios políticos, produziu o que nós estamos vendo hoje. Digo que é “a volta dos que nunca foram” porque trata-se de um processo histórico, que não é linear, mas de disputa, de pactos e conflitos entre as elites políticas que foram moldando o Estado brasileiro dentro da ideia e ideologia de segurança nacional, formando uma hegemonia interna de domínio do Estado.
O que na verdade mudou foi a participação política dos militares, que foi retomada a partir dos protestos de junho de 2013, mas eles continuaram nesses espaços estratégicos exercendo a tutela. Havia essa crença na profissionalização dos militares e de que haviam abandonado o passado autoritário, o papel político de tutela e incorporado essa missão democrática da defesa nacional. O Villas Bôas [ex-comandante do Exército] até 2018 era tratado como um general democrata, inclusive pelos caciques do PT.
Mas desde 2017 havia indícios de que os militares estavam participando em conspiração política na disputa pelo poder no meio de uma crise política. O grande estopim foi o discurso do Mourão [vice-presidente Hamilton Mourão], ainda como um general do Alto-Comando do Exército, na Loja Maçônica de Brasília, com planejamento de ação política da ESG [Escola Superior de Guerra], que é com quem ele estudava. Ele dizia que o Judiciário tinha que fazer a sua parte, que era resolver o que eles chamam de disfunções provocadas por comportamento de quem dirige o poder político. Quando ele disse que “nós estamos com um planejamento muito bem-feito e estamos realizando aproximações sucessivas”, revelou a metodologia da tutela, que é a da doutrina direcionada à ação política do Estado e da política nacional como um todo.
As raízes da tutela são mais profundas?
Na história republicana, enquanto burocracia militar, sempre estiveram aliados às classes sociais participando da direção política e ideológica do Estado e da organização nacional, seja como coadjuvantes ou como protagonistas. Eram personalidade política durante o Brasil Império e, na fundação da República, passaram a ser agentes políticos, ganhando o status de instituição política, ainda que não formal. A Constituição republicana [1891] já reconhecia as Forças Armadas como instituições voltadas para a segurança interna dentro da ideia de lei e de ordem. Desde o início da Independência, as forças, sobretudo a do Exército, estiveram voltadas contra os próprios brasileiros, como um mecanismo de segurança interna em revoltas populares, liberais, messiânicas, nas quais o Exército cumpriu um papel. Canudos foi o primeiro evento republicano, mas as duas primeiras ditaduras, tanto a de Deodoro da Fonseca como a de Floriano Peixoto, promoveram uma série de massacres contra a população brasileira — decapitações, com mulheres e crianças sendo assassinadas. Nossos militares foram educados na Batalha de Guararapes [1648]. O símbolo dos militares é Guararapes, com negros escravizados, indígenas dominados e os portugueses, os colonizadores, lutando contra o invasor holandês. Então essa é a concepção de nacionalidade do Exército hoje. Tudo isso é uma construção de mito, baseado em uma ideologia colonialista, do tipo “nós vamos defender a colônia”. A concepção de fundação de nacionalidade é colonialista: o português exerce o domínio, e o negro escravizado e o indígena dominado auxiliam esse domínio.
Pode exemplificar como esse domínio se reflete no Brasil de hoje?
Um exemplo muito claro é o atual Gabinete de Segurança Institucional [GSI], que começa em 1930 como Estado- Maior do Governo Provisório, em 1934 como Estado Maior do Governo, depois Casa Militar, Gabinete Militar e, finalmente, com a criação do Ministério da Defesa, vira GSI, um aparelho de Estado dos militares dentro do Poder Executivo. Os militares conquistaram um nível de autonomia em relação ao poder civil inédito na República e que nunca foi desmontado. Os civis aceitaram essa reserva de domínio militar com supervisão de tutela. Quando se especulou que poderia haver uma decisão judicial de abrir o sigilo do presidente da República, que é um capitão do Exército, o general Augusto Heleno [chefe do GSI] soltou uma nota dizendo que se fizesse criaria uma estabilidade imprevisível na República. Ele ameaçou. E veja que a tutela é velada, é camuflada. Era assim em 1985 e continua hoje. Todo general, quando questionado se o Exército vai ou não vai dar golpe, diz que o Exército é uma instituição nacional permanente e de Estado. Ele está ameaçando o poder institucional e a soberania popular dizendo que o Exército é a única instituição nacional, e do povo.

Qual a relação da política de segurança pública com o regime militar? A opção de combate por confrontos que têm terminado em tragédias é herança da ditadura?
Eu vejo que tem profunda relação. É uma lógica moldada em 1957 pelo general Amaury Kruel, que era o chefe do Departamento de Polícia do Distrito Federal no Rio de Janeiro. Com o processo de modernização e urbanização originários na Revolução de 1930, e o início da criminalidade urbana, ele define como uma política pública de segurança o extermínio. Ele falava que “a solução é ter que matar”. E o que isso significa? É importar a lógica de guerra, que é a de eliminação do inimigo, muito diferente da concepção de política democrática de segurança pública, que tem uma noção de preservar a vida. A lógica da guerra naturaliza a morte. Desde 1985, os militares não saíram da rua. E é muito interessante, que lá em 1996, quando tem no governo do Rio de Janeiro um secretário de Segurança Pública, que era um general do Exército [Nilton Cerqueira], surgiu a “gratificação faroeste”, premiando o policial que mais matasse. Há aqui o que eu poderia chamar de exportação da mentalidade militar da guerra para o conflito distributivo dentro da segurança interna, aplicada também na criminalidade comum. Nós temos hoje, bem claro, um terror de Estado nas periferias brasileiras. Estamos falando do Legislativo, do Judiciário, do Poder Executivo e da instituição policial como um todo. Temos que recordar que o que legitima esse tipo de prática é o Judiciário.
Você se refere ao Judiciário civil ou ao Judiciário militar?
Aos dois. O Judiciário civil incorporou a lógica de guerra. Então você pode perguntar para um criminalista que atua nos tribunais ou no juizado de primeiro grau o que significa ordem pública, que é um dos grandes fundamentos para as ações cautelares, sobretudo de prisão, e vai ver que ela reproduz a doutrina de segurança nacional.
Isso explica a falta de controle civil sobre as ações da polícia?
Na concepção weberiana de Estado, a gente vê que o Estado é aquela instituição burocrática, profissionalizada, especializada, que reivindica o monopólio da violência legítima. E a gente costuma ver as organizações criminosas — PCC, Comando Vermelho e outras mais regionais — como se fossem uma instituição antissistema. As margens da atuação do Estado em segurança incluem essas organizações criminais. Ou seja, tanto o tráfico como o crime organizado fazem parte da manutenção da ordem a partir das armas, dentro de um determinado território e de uma determinada comunidade.
Onde entram as milícias nesse contexto?
A minha hipótese é que as milícias são um subproduto da nossa cultura militar. Como mencionei, é a ideia do extermínio como uma política de segurança pública, que veio de militares e do oficialato ocupando cargos de segurança pública na história brasileira. Boa parte das milícias cariocas são formadas por militares. Meu ponto de discordância [de outros pesquisadores] é considerar que a PM [Polícia Militar] é uma instituição militar e não policial.
Pode explicar melhor?
Eles exercem uma função de polícia, mas a corporação, o treinamento, a doutrina, a moral, a ética, a ideologia é toda militar. Os disciplinamentos são militares. Eles respondem a militares, são julgados por militares, têm patentes militares e usam a farda militar. Então eles são militares. E criam um policiamento ostensivo, preventivo e capilarizado. Eles só perdem em capilaridade nacional para o SUS [Sistema Único de Saúde]. Em todo o país há unidade básica de saúde e algum batalhão da Polícia Militar.
É aí que vislumbro as milícias. Elas são formadas, em sua grande maioria, por militares estaduais. Na República Velha, essas polícias militares exerceram, cada uma, um papel de centralização nas oligarquias regionais. Com a Revolução de 1930 passaram por um processo de federalização durante o Estado Novo, completado pelo golpe de 1964, com subordinação ao Comando de Operações Terrestres do Exército. É só observar o legado autoritário: de 1964 a 1985 boa parte dos comandantes militares estaduais eram generais do Exército. Até hoje um comandante da Polícia Militar oriundo da carreira militar estadual, quando o governador indica, precisa da anuência do general comandante militar. Está na lei.
Quais as consequências desse atrelamento?
A questão, então, é que o controle desses militares estaduais está na mão dos generais. É um risco. O poder civil não controla o poder armado do Estado.
Que ligações têm as milícias com a política?
Eu não vejo as milícias como o braço armado de uma organização política que vislumbre a atenção e o poder central. Por que eu digo isso? Na nossa pesquisa, a gente teve acesso, no ano passado, aos cargos de confiança dentro da Presidência da República, na Casa Civil, para tentar entender quem é que estava ocupando o poder. Oitenta a 90% são oficiais do Exército. Então não é uma República das milícias. Elas são mais um fenômeno econômico e de governo de território. E, claro, tem o fenômeno ideológico, o fenômeno de acesso à política local, mas eu não vejo na milícia um braço armado do projeto político nacional de nação. Os militares, sobretudo oficiais do Exército, ocupam esse espaço.
Que papel as milícias teriam caso Bolsonaro opte por uma aventura autoritária?
Acho que antes desses grupos a gente poderia falar dos CACs [caçadores, atiradores, colecionadores], que surgiram de uma forma meteórica no governo Bolsonaro. E pasmem: quem autoriza o armamento, sobretudo o armamento pesado, o fuzil? O Exército. Minha hipótese é que tem semelhança com o modelo venezuelano de milícias, de rifles, armados, mas organizado também para garantir a segurança, a defesa nacional. Em certa medida esse modelo acaba sendo uma inspiração desses CACs e da proliferação. Há uma política pública de Estado centralizada e orientada a produzir células regionalizadas, capilarizadas, sobretudo em regiões rurais, dentro da lei, para criar uma cultura não só da arma, mas também de sociabilidade, como faz a milícia. Isso acaba abrindo a possibilidade para uma mobilização armada, desestabilizadora do sistema político, do processo eleitoral, de forma, vamos chamar aqui, naturalizada. Os últimos dados mostram que o país tem mais de 600 mil CACs. Na formulação de cenários prováveis, eu acredito que esses civis que fazem parte da cultura dos CACs, a exemplo da experiência dos Estados Unidos na eleição passada, possam vir a produzir desestabilização do sistema político. Não vou dizer que eles vão sair dando tiro, mas podem querer desestabilizar. Fora isso tem um outro elemento: a Polícia Militar, que pode repetir o comportamento adotado de 2013 até o golpe de 2016, tratando de forma distinta manifestantes de direita e de esquerda. Eu cogitaria aqui que esse padrão pode se repetir, inclusive com leniência dos militares estaduais com atividades violentas desses grupos.
Como Bolsonaro se coloca diante dos generais?
Ele tem um carisma, é autoritário e [tem] uma forma de comunicação um pouco diferente, por exemplo, do que a do Mourão, mas é um produto de tudo isso. Os militares consideram Bolsonaro como um líder carismático. Sustento com a maior tranquilidade que o bolsonarismo é derivado da nossa cultura militar e das nossas Forças Armadas. O Projeto Brasil 2035 [elaborado por institutos militares como projeção de permanência no poder] é o suco concentrado do nosso militarismo. E vai além do bolsonarismo.

Você acha que os militares negociaram algum acordo para evitar um impeachment?
Com certeza. Foi a entrada do Centrão. O Centrão é obra dos militares.
O Centrão é obra dos militares para ser usado como força política para segurar o Bolsonaro?
Claro. O Centrão civil é derivado do Centrão militar. O comportamento dos militares republicanos sempre foi muito semelhante ao Centrão civil originário da Constituinte de 1988. Lá são os deputados civis que vão defender na Constituição uma conciliação com as políticas sociais, um modelo mais liberal que começava a bater na porta da América Latina. É uma composição fisiológica. Quando o militar vai para a política, sempre é numa postura de conciliação com as elites políticas e com as oligarquias, um toma-lá-dá-cá na distribuição de cargos. O que a gente atribui ao comportamento dos civis, na verdade, é o comportamento dos militares na política. O militar se aposenta cedo, e com a formação histórica que ele recebeu a partir de uma coesão ideológica entre a burocracia militar e o poder econômico no Brasil, ele cria uma simbiose que só existe aqui, que é essa junção com empresários. O complexo empresarial e militar atuou na conquista do poder do Estado e depois no empenho da ditadura de 1964. Então o que acontece? Hoje o militar da ativa pode ser sócio de empresa. Como eles têm uma reserva de domínio, que é a da inteligência e da defesa nacional, onde está o maior orçamento de investimento de todos os ministérios, mantêm uma profícua relação de negócios de defesa com uma série de empresas de vários Estados nacionais. Os militares acabam participando desses negócios.
Então existe um Centrão militar?
Eu afirmaria categoricamente isso. O Weintraub [Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação de Bolsonaro] veio recentemente a público dizer que o Centrão foi para o governo Bolsonaro levado pelo general Ramos [Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo] como forma de manter o governo. A entrada da direita tradicional no governo foi obra dos generais que se engajaram no projeto do governo Bolsonaro, entre os quais estão Ramos, Heleno e Braga Neto.
Nos ataques à urna eletrônica, Bolsonaro já disse que aqui pode acontecer algo pior que a invasão do Capitólio logo após as eleições nos Estados Unidos. Até que ponto é apenas uma ameaça?
Há uma tendência de usar a ameaça e o medo como forma de influenciar, pela coação, o comportamento do opositor, que é uma estratégia batida, como a do policial bom e o policial ruim: um ameaça, o outro amansa. É o blefe. A questão é: quais as garantias de que isso não vai acontecer?
Olhando o contexto, nenhuma.
A organização política, as instituições, a sociedade civil, os movimentos sociais precisam centrar nisso: quais são as garantias de que isso não vai acontecer? Se acontecer, quais as garantias de que a ação será neutralizada sem afetar a eleição nem a posse? Acho que o primeiro passo é uma incidência estratégica na disciplina militar. O exemplo do Comando Militar do Nordeste [que puniu com prisão um major bolsonarista da ativa que postava mensagens de propaganda política pelas redes sociais] é um ótimo caminho para assegurar que militar da ativa, seja federal ou estadual, não pode se manifestar politicamente durante as eleições, como ordena a disciplina militar. Pode votar em Bolsonaro, mas não pode desvirtuar a finalidade da sua função pública para fazer militância partidária e muito menos para desestabilizar o regime democrático.

Militares da ativa entrariam numa aventura autoritária?
Acho que eles não vão liderar uma aventura autoritária. A minha percepção é que, se surgir um grupo ou determinada força policial que não reconheça o resultado das eleições e proponha a desestabilização, oficiais- generais e o Alto-Comando do Exército que atuam politicamente vão se postar como moderadores do conflito. Vão buscar uma posição de meio-termo que preserve as conquistas de poder que eles tiveram como corporação, como instituição, e como indivíduos. Em segundo plano, acho que tentariam reduzir o poder de um eventual ganhador que tenha uma ideologia contrária à que eles defendem — aqui estou me referindo mais ou menos à gestação de um parlamentarismo ou semiparlamentarismo.
O poder civil ainda tem medo dos militares?
Tem medo porque há um trauma aberto, não resolvido. É só analisar a importância da memória no comportamento do sistema político de sociedades que passam por grandes traumas de violência. No momento em que essa sociedade não enfrenta essa violência, haverá uma compulsão pela repetição. A responsabilidade é do poder civil, que é responsável pela burocracia militar.
Você acha que uma eventual vitória de Lula será assimilada naturalmente?
Acho que vai depender das correlações de forças da sociedade durante esse período que antecede a eleição e, eventualmente, a posse. Sinceramente, ainda tenho muito receio de uma fraude eleitoral dentro do TSE operada por militares.
Por que acha isso?
Qual é a garantia de que o processo vai funcionar? Acho que nós temos uma certa salvaguarda de que o Tribunal Superior Eleitoral preservou uma autonomia em relação à urna eletrônica, se deu conta do equívoco da política laudatória operada pelo antigo presidente do TSE Luiz Roberto Barroso [que, em agosto de 2021, pediu ao então ministro da Defesa Braga Netto a indicação de um integrante da alta cúpula militar na Comissão Externa de Transparência]. Foi um erro infantil de uma elite judiciária achar que esses militares seriam cooptados ou seriam facilmente trazidos pro lado do tribunal. Chamar as Forças Armadas para a comissão foi um desastre. Os militares sabem muito bem que os políticos acham que vão cooptá-los e eles aceitam essa aparência, mas seguem o próprio programa, sua própria agenda de política, enganando os políticos. Isso historicamente sempre aconteceu.
O grupo gestor dominante no governo é o militar?
Não tenho dúvida disso. É só olhar quem ocupa os cargos políticos. Vamos pegar o caso do Ministério de Minas e Energia. O Bento Albuquerque [ex-ministro], da Marinha, dirigiu toda a privatização da Eletrobrás e dolarização dos preços dos combustíveis na Petrobras. Isso está gerando grande problema para a base de Bolsonaro, que nada ganha com os aumentos.
Quem ganha com isso?
Quem está ganhando são essas lideranças militares que têm ocupado cargos estratégicos no Estado brasileiro nas atividades econômicas e no poder político. Tomam decisões de grandes impactos econômicos que favorecem determinados grupos. Fazer um raio-x disso é o papel da academia. Gostaria muito que, assim como os políticos, os integrantes do Alto-Comando militar e os de cada região fossem obrigados a abrir suas declarações sobre Imposto de Renda e de evolução patrimonial como qualquer burocrata no exercício do poder político. Seria uma boa oportunidade para que o discurso de moralidade, de superioridade militar, passasse por um teste no mesmo padrão de transparência e de moralidade que a gente cobra do político civil. Não cobrar transparência é um dos efeitos da tutela militar.
Texto: apublica.org.